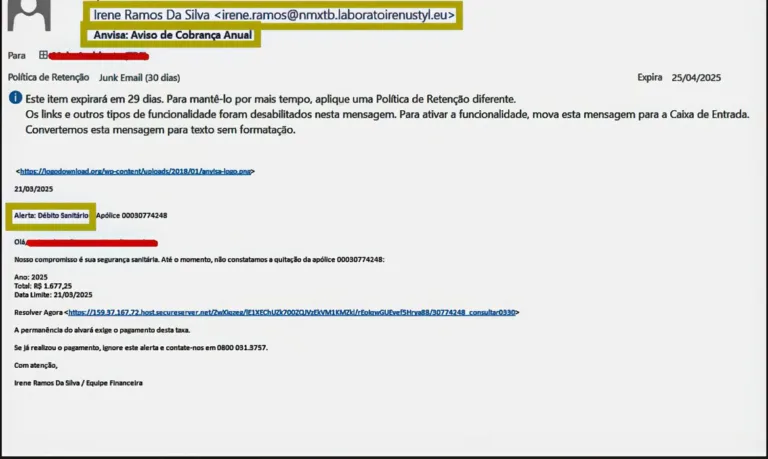Toda vez que assisto ao filme O Labirinto do Fauno, sobre o fascismo de Francisco Franco na Espanha (1936-1975), tenho sensações estranhas, diversas: a última me deu tristeza. Talvez seja porque vi o filme com os olhos da menina que “morreu para salvar uma vida inocente” – seu irmão recém-nascido por parte de mãe, casada com um capitão que não é humano de tão perverso.
Pensei na mitologia resgatada pela menina como “fuga da realidade”, uma fuga mágica. A menina se salva exatamente na morte, pois dá o último suspiro sonhando que se tornaria a princesa de um reino de justiça e de paz. Não poderia ser diferente. Afinal, o que pode uma criança no meio de fascistas facínoras, psicopatas, sedentos pelo sangue dos pobres?
Se fosse rodado no Brasil – algo improvável, sobretudo se pensarmos que o diálogo é todo pensado, que não há gritarias, palavrões e nem palavras desconexas –, o filme seria mais parecido com O Labirinto de Macunaíma.
Quer dizer, uma trama de melodrama sem pé e nem cabeça ou pornochanchada. Como não conhecemos o realismo mágico, é capaz do Fauno se travestir de A Mula Sem Cabeça. O sonho da menina, sua última esperança, seria convertido em fantasmagoria, em perseguição e danação para todo o sempre. Não preciso dizer qual, mas é o coronelismo. Ou, o pior, teria um fim como pastelão. Ou quem sabe um desfecho de realismo trágico, daqueles que você sai do cinema e vai direto ao psiquiatra.
Talvez o filme fosse excomungado ou evangelizado, no país cheio de mitologias sociais e de fantasias religiosas salvacionistas: neopentelhismo. Em todo caso, penso que acerto ao ver o filme pelo olhar de sua vítima mais jovem. Em sua credulidade de criança, não há espaço para a vingança: talvez um sorriso irônico quando soube que desagradou profundamente ao capitão.
Alguém irônico diria que ela desagradou ao capital. Seja como for, não há rancor e nem ódio. Há redenção. E mesmo a morte do capitão (caput) não é bárbara, cruel, como ele sempre fora. Levou um tiro na cara – depois de saber que o filho jamais saberia quem foi seu pai –, um tiro fatal abaixo do olho direito disparado pelos guerrilheiros do bosque encantado.
Melhor dizendo, o capitão é morto pelo povo, que não o chacina e nem dilacera seu corpo – como ele também fazia. É quase um tiro de misericórdia, na bochecha. Somando-se tudo, foi um ato misericordioso para um assassino covarde.
Ao contrário do pai, um general morto em combate – que quebrou o relógio para que o filho soubesse a hora exata em que morreu um herói –, o capitão apenas levou o seu da mão direita para a esquerda.
O capitão tinha fascínio pelo objeto: mercadoria. Limpava como quem engraxa as engrenagens de sua própria vida. Em vão. Morreu e o tempo passou. O capitão, depois “generalíssimo”, Franco morreu. Está certo que deixou um hino vaiado por mais da metade da população. Porém, mesmo assim, lá o Fauno não virou chupa-cabras.